Manuel Cardoso: O seu primeiro sucesso, Quando o Sol se põe em Machu Pichu, é um livro sobre viajantes. O luís Novais é, também, um viajante. Quem viaja procura o quê? Ou afasta-se de algo?
Luís Novais: Quando viajamos tomamos contacto com a diferença mas também com a semelhança. Chegamos talvez à conclusão de que a humanidade no seu todo enfrenta as mesmas questões, o que nos aproxima, mas difere nas respostas, o que será talvez a origem dos conflitos, quer estes sejam nacionais, pessoais ou culturais.
Dou um exemplo. Com uma boa dose de ocidentalcententrismo costumamos dizer que desde os Gregos que não se escreveu nada de novo ou até, indo mais longe, que se salvarmos Homero salvamos toda a literatura posterior.
Isto tem uma boa dose de verdade, afinal, na senda desse grande filósofo contemporâneo, Rollo May, eu diria que as questões mais humanas terão talvez apenas resposta mitológica, quer o mito se transvista ou não em romance, e os “mitos” homéricos buscam todas as respostas que ainda hoje buscamos.
Contudo, se ouvirmos um balobeiro (espécie de sacerdote animista) Papel ou Balanta na Guiné Bissau, falar dos seus mitos fundadores, das eternas lutas entre homens e semi-deuses, dos semi-deuses amigos e dos semi-deuses inimigos, diríamos que Ítaca é algures numa das ilhas do arquipélago Bijagós.
Dou apenas este exemplo mas, se quiséssemos entrar no domínio da antropologia comparada, teríamos às centenas, basta ler levy Strauss.
Ora, se culturas que nunca comunicaram entre si têm mitos que procuram responder às mesmas questões, isso só pode querer dizer que as questões humanas são comuns a todos os humanos. No fundo, nascemos à nossa medida num mundo que não o é e, como tão bem o demonstra Damásio, temos a característica única na natureza de sabermos que somos, de criarmos um personagem, ou mito, “eu”. Isto foi uma revolução na vida que, enquanto espécie, talvez não estejamos preparados para enfrentar e é também algo que nos ajuda a compreender a alegria e o drama de ser humano.
Viajar, contactar com a aparente diferença, ajuda-nos a perceber isto.
Mas também nos ajuda, por outro lado, a perceber que a centriptica mania da superioridade das ditas grandes civilizações não tem qualquer razão de ser, muito menos a do modelo capitalista que se espalha sôfrego pelos quatro cantos do planeta. Na amazónia peruana, por exemplo, assisti ao curioso despontar das chamadas “comunidades campesinas”, onde o autarquismo comunitário é o modelo. Casos idênticos, estes já baseados na tradição, podemos ver em África, em sociedades tribais onde a busca de equilíbrio supera a quimérica procura duma verdade transcendente e, por isso, sempre e sempre inalcançável, sociedades onde essa mesma preocupação com o equilíbrio suplanta a acumulação individual.
Enfim, após tantas e tantas horas de voo, após e tantos passos por cidades e selvas, poderia multiplicar os exemplos. Julgo que este não será o lugar para o fazer, mas sem dúvida que este contacto com os diversos outros me enriquece muito do ponto de vista da obra que criei e da que possa possa vir a criar.
MC: No segundo livro, Os Parricidas, há uma certa explicação da loucura. Será a loucura uma característica humana, uma condição essencial, ou uma anomalia incontornável?
LN: Em qualquer sociedade, louco é o que põe em causa o status quo. Seria talvez interessante tentar perceber a forma como este conceito, o de loucura, varia de cultura para cultura, quer numas dele se fale assépticamente chamando-lhe loucura, quer noutras se opte pela via mágica, chamando-lhe possessão. Fazer um pouco como Zaratrusta, agora já não em relação à não universalidade da moral, mas à não universalidade da loucura, até porque uma está relacionada com a outra. E fazendo-o, talvez cheguemos à conclusão de que o princípio é sempre o mesmo: quem põe em causa o equilíbrio é louco. Louco numa graduação que vai do que se considera aceitável a todos, excentricamente necessário a alguns, patológico a outros e ainda de internamento para uns tantos. Pois bem, qualquer acto de criação é em si mesmo um acto de loucura, pois nada põe mais em causa o regular andamento do sistema do que criar.
Acontece, porém, que criar é talvez como um parto, é extremamente doloroso e, assim sendo, deveríamos perguntar o que levará o ser humano à dor de criação, porque todos os humanos criam, em escalas diferentes, é certo, mas somos uma espécie de criadores. Haverá diversas respostas, eu confesso que só encontro uma: criamos porque não conseguimos suportar a tal ideia de “eu” de que falei na resposta anterior. Criamos porque o “eu” também implica a consciência do “outro” e assim a unidade cósmica, que é comum a todas as demais espécies, fica posta em causa para os que nasceram humanos. A única solução que encontramos é criando, criando mitos, criando respostas, criando perguntas, criando modelos… tudo e tudo na esperança de encontrarmos pela via criativa a integração que a natureza nos roubou quando nos deu a comer desse famoso e metafórico fruto que é o da árvore do conhecimento.
Sob este ponto de vista, e respondendo agora directamente à questão, a loucura é uma característica humana, é uma condição essencial e, curiosamente, é também uma anomalia incontornável, já que deriva da condição humana que, essa sim, é anómala.
MC: Pelo menos em parte, o terceiro livro, O Heróico Major Fangueira Fagundes, é uma espécie de caricatura do país e do mundo em que vivemos. Mas não lhe parece que Portugal encaixaria melhor numa tragédia de Eurípedes do que numa comédia de Aristófanes?
LN: Julgo que este livro será talvez esquizofrénico a esse nível. Aliás, a esquizofrenia é aqui uma constante. Temos vários narradores e de vários tipos, temos personagens que são narradoras e temos narradores autores e se opto por este plural quando falo de autores narradores, é porque também estes assumem diversas personalidades. ´
O mesmo se passa ao nível estilístico e agora é talvez a altura de dizer que eu enfrentei múltiplos desafios com este livro. Por um lado quis escrever algo que fosse realmente português; tão português que possivelmente apenas um português o pudesse entender plenamente.
Eu ainda não tinha escrito sobre Portugal. Nos livros anteriores navegara ou pela realidade mais vasta que é o Ocidente actual, no caso de “Quando o Sol se Põe em Machu Pichu”, ou pelo drama mental a que a crise filosófica que o Ocidente enfrenta está a levar cada ocidental. Este último é o caso de “Os parricidas”, um livro de quase um só personagem. Um personagem que subitamente se vê confrontado com uma questão moral e não é capaz de tomar uma decisão, acabando por tomá-la de uma forma trágica que, temo, a seguirmos este rumo, será a mesma forma para que caminha a nossa civilização.
São, portanto, dois livros centrados no tema que mais me inquieta e que é o da desagregação de tudo o que aprendemos com Sócrates e Cristo, enquanto personagens históricas que traçaram as nossas bases civilizacionais.
Isto para dizer que, com “O Heróico major Fangueira Fagundes (com todolos seus anexos)” quis ir até uma dimensão mais laboratorial; ajustei o microscópio e abordei Portugal, quis escrever um livro português. E que de tão português fizesse até uma ronda pelos estilos que marcaram a História da nossa literatura. Conseguindo ou não o efeito pretendido, ao nível estilístico, neste livro poderemos reencontrar Fernão Lopes, cantigas de escárnio e maldizer, um auto ao estilo vicentino, padre António Vieira, Alexandre Herculano (já agora, o quinto anexo que tão destacado é na vossa crítica é profundamente influenciado pela narrativa romântica e de interpelação ao leitor tão caras a Herculano e a outros depois dele). Encontra-se também Eça, nesse personagem central que é Alípio Severo Marques, representante do político oportunista e sabujo do poder financeiro, Alípio Severo que, diga-se, foi o nome que Eça deu ao seu Conde de Abranhos, símbolo do politiqueiro da segunda metade do século XIX. Também o modernismo de Mário de Sá Carneiro lá está, nesse personagem que é o Super Homem e lá estão também os que são considerados neo-realistas, pois António Paulo é um filho por mim criado de Mariano Paulo, o trágico personagem de “Casa na Duna”, uma obra que para mim é muito mais precursora do existencialismo do que do neo-realismo. E enfim, pelo meio aparecem outros estilos que serão talvez genuinamente meus.
Ora, sendo a obra tão eclética a estes níveis, julgo que também o pode ser quando a analisamos pela bitola dos clássicos dos clássicos, os Áticos. Eu não estou certo de que seja certo afirmar que estamos mais perante uma comédia de Aristófanes do que numa tragédia de Eurípedes. O trágico e o satírico entrecruzam-se e, se temos partes puramente satíricas, também as temos, e muitas, bem trágicas. Os diversos capítulos do Super Homem, a Puta, a estudante que servia cafés, algumas das reflexões do bibliotecário… julgo que quando entramos nos mundos destes personagens, entramos na tragédia. Será talvez por isso que o Prof Vitor Aguiar e Silva, que me honrou com o texto da contracapa e com uma, para mim inesquecível, apresentação pública, escreveu que “o cómico e o burlesco das personagens e das situações ressumam amargor e indignação ética, suscitando no leitor ora o riso irreprimível, ora a reflexão angustiada.” Ou seja, o livro balanceia entre Eurípedes e Aristófanes.
Ora, eu considero esta duplicidade algo de muito importante. O riso é bom e tem uma função na literatura mas não pode ser um fim em si mesmo e tem de contrabalançar com o drama para que se possa transformar em catalisador de reflexões e, quiçá, de mudanças. Nem de propósito, acabo de ler uma crítica que Antero escreveu por volta de 1878 a uma peça escrita por Guerra Junqueiro. Um crítica onde aquele que foi talvez, o mais sério dos homens da geração de 70, estaria também, julgo, a falar para outros pares bem mais importantes que Junqueiro, talvez até para Eça: “Uma certa dose de seriedade, ainda quando seja um pouco hirta, um pouco pedantesca na sua gravidade convicta, e por conseguinte um pouco ridícula, é condição essencial da vitalidade e da sanidade do espírito público. Quando um povo chega a rir-se de si próprio, é porque perdeu, com alguns preconceitos e uma certa estreiteza inerente a toda a convicção séria, uma boa parte, senão a melhor parte, da sua virtude colectiva”.
MC: Tolstoi, Dostoievski ou Kafka? Porquê?
LN: Dostoievski, sem dúvida. Porque escreveu antes de Freud e enquanto os Flaubert, os Zolá, os Eças escreviam como escreviam; equando os Victor Hugos e os Herculanos ainda escreviam como escreviam, Dostoievski escreveu o que escreveu.
Entranhou a alma humana, Dostoievski. Dissecou-a, mostrou-a, estendeu-a na mesa de autópsias, esventrou-a, pôs as mão em cada um dos seus órgãos, das suas misérias, dos seus anseios, dos seus medos… e tudo isto antes que alguém sonhasse que haveria de aparecer em Viena um fumador de charutos que dividiria a sua vida entre a rua Bergasse e o Landtman café, Sigemund, o Freud, claro.
Essa grandeza não faz de Dostoievski apenas um percursos do modernismo, mais do que isso, ele conseguiu ser um pré-precursor, pleonasmo que utilizo com toda a consciência.
MC: Qual é o maior defeito de escritor Luís Novais?
LN: Não saber estar calado, mesmo quando lhe pedem que fale dos seus defeitos…
MC: Luís Novais faz parte da nova geração de grandes escritores portugueses de ficção. Digo eu. Quer comentar?
LN: O insuportável vazio em que nos deixou a perda de Saramago, fez com que repentinamente surgisse uma obsessiva busca por uma nova geração de escritores. É comum ouvir-se que este ou aquele escritor são os sucessores de Saramago, numa atitude de júbilo que eu acredito que o próprio Saramago não teria se o dissessem sucessor de alguém. Logo ele, que nos Cadernos disse algures, e cito de cabeça, que aquilo que sempre quis foi fazer diferente.
Eu acho que há duas ideias que não ligam entre si, a ideia de “Novo” e a ideia de “Grande”. Só o tempo faz o grande e o tempo nunca é novo. Depois, a História está cheia de exemplos. No campo da pintura, por exemplo, cito um dos meus favoritos, El Greco, que no século XVI foi preterido por pintores de corte como Velazquez, quase se exilou em Toledo e a sua obra só viria a ser reconhecida já no século XX, como precursora do expressionismo e, até, do surrealismo, esta ultima opinião arrisco-a eu sem saber se sou secundado pelos especialistas.
Em Portugal, temos o óbvio caso de Fernando Pessoa, em vida um quase desconhecido fora dos círculos iniciados e, já depois da sua morte, é descoberto com uma grandeza que não faz de si apenas um património de Portugal, mas de toda a humanidade.
Dito isto, não há uma nova geração de grandes escritores portugueses, o futuro dirá quem para o futuro ficará.
MC: Que pensa da crítica literária portuguesa?
LN: Humm… não me peçam para me dedicar à crítica da crítica (risos)
MC: Voltando às viagens. Onde e com quem passaria um fim-de-semana a dois?
LN: Um fim-de-semana é muito pouco para quem tem alma de viajante. Os desafios que estou para enfrentar são o Próximo Oriente (em Junho vou para lá e conto ficar até Novembro). Depois a Russia, a China e o Sudueste asiático, com o que dou a volta ao calendário e me ponho a regressar por volta do mesmo dia de hoje mas no próximo ano
MC: Que importância atribui à blogosfera, no domínio literário?
LN: É um excelente meio de democratização da crítica. Acompanho e sempre que encontro referências, positivas ou negativas, aos meus livros coloco-as no meu blog e na minha página do Facebook. Quando me parecem particularmente pertinentes, costumo até deixar um comentário. E depois, eu também tenho o meu Blog… não de crítica mas de texto livre. Tenho até personagens que nasceram aí. Se pesquisarem no meu, encontrarão a personagem a”A Puta” deste ultimo livro, plasmada muito antes de eu sonhar sequer que iria escrevê-lo e o mesmo para Jaquité..
MC: Luís, dê-nos um nome de um livro que o tenha marcado desde sempre.
LN: Só um? “Crime e Castigo”… apesar de no final Dosteievski ter caído na tentação romântica.
MC: Luís, muito obrigado pela sua disponibilidade, a equipa do Destante deseja-lhe o maior dos sucessos
Obrigado eu



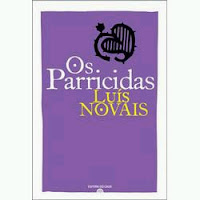







4 comentários:
Eh pá! Eis o Novais! Grandes respostas (e respostas grandes)!
Dizer que adorei as tuas respostas acho que é pouco!
Não vou fazer grandes comentários (pelo menos por agora). Reservo-me para uma segunda leitura da entrevista.
Já agora, deixo aqui uma observação que devia ter posto em forma de pergunta mas não me ocorreu: nos 3 livros publicados há, A MEU VER, um crescendo de qualidade literária e de dimensão ludica na leitura. A pergunta que faço agora é esta: onde vai parar Luís Novais?
a ler assim muito depressa parece-me que Luís Novais é um homem universal... vamos estar atentos a este senhor ;)
Quanto ao livro que o marcou um comentário:
Crime é não ter lido ainda Luís Novais.
Castigo é Luís Novais não escrever mais.
Eu estou a cometer um crime, mas vou-me redimir.
Abraços
Pois é Manuel, Grandes respostas e óptimas questões também :)
Adorei a entrevista.
Vou, tal como o Ângelo, redimir-me e ler a última obra do autor, a qual já espera na estante :)
Sim uma grande entrevista, este senhor sabe do que fala, é pena (comum a todas as entrevistas) que fujam à questão da crítica, embora neste caso a fuga diga tudo ou quase tudo ;), mesmo assim gostava de ver os autores mais frontais dizendo o que lhes vai na alma.
E que grande viagem Luís Novais planeia fazer, espero que venha carregado de ideias para novos livros.Um abraço ao Luís e esperemos ter noticias, literárias e não só, dele muito em breve.
Abraços
Enviar um comentário